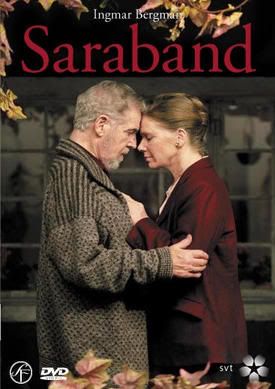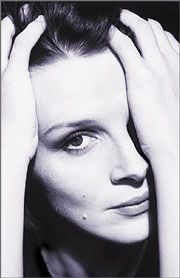Se algum filme mostrasse o amor do seu realizador à arte do cinema, este seria sem dúvida um deles. La Nuit Américaine é a obra de um autor apaixonado, sem se saber exactamente se pela vida, pelo cinema, ou pelas duas coisas. Na tripla ilusão deste filme - o que vemos, o que é filmado, e o que vemos projectado dentro do próprio ecrã, por todo o lado vemos relações de paixão, de dedicação, de conflito ou angústia, mistério ou até comédia, por protagonistas que são pessoas, que fazem o papel de outras personagens, que se dedicam à vida, ao cinema, que nos mostram, inclusivamente, e no caso de Truffaut, também actor (será?), o seu próprio sonho: uma criança que tira de um cinema, na noite escura, as fotografias de exibição de Citizen Kane, e que foge com elas pela rua fora. Este é um momento tocante, não só por compaixão, mas pelo que nos toca a nós. Aliás, como se coloca ao longo de todo o filme, o que será mais importante, a vida, ou o cinema?
"Os filmes são mais harmoniosos que a vida, não há engarrafamentos, não há tempos mortos."
Onde está a fronteira que separa a nossa vida e o nosso cinema? Qual dos dois o mais marcante, fascinante, ou belo? Por este filme, torna-se difícil encontrar uma resposta clara e concreta, embora a conclusão possível seja a de uma inevitável confusão, embora com tendência para a totalidade do último, único meio de podermos alcançar uma certa eternidade. Mas nesta obra singular, as personagens não são apenas eternas pelo papel que desempenham enquanto pessoas da vida quotidiana perante os nossos olhos - são também pelo seu papel perante a câmara do filme do filme, as suas posições em cada plano, as falas adaptadas da vida, toda a dimensão que se obtém pelos jogos ilusórios criados a partir do seu movimento, contínuo e infinito.
O cinema é, então, absoluto, ao contrário da vida, que é provisória. Mesmo na morte de um actor na vida real, este não é apagado do cinema - "it is impossible", diz o produtor inglês.
Pelo cinema superamos, assim, a imperfeição, o aborrecimento, o sofrimento, a dor, mesmo a morte. Conseguimos alcançar uma forma, um lugar, criar sentido, amar e sermos amados, de certa forma, viver, até modificar o que julgamos estar errado (não necessariamente o que não está correcto) - assim assistimos às rushes, à edição e montagem de toda uma obra, o redrobamento mágico de uma vida ou de uma história.
Mas estas personagens apenas sobrevivem assim, tal como o realizador afirma a um dos seus actores, Alphonse - são pessoas que apenas podem viver no cinema, são demasiadamente frágeis para se agarrarem ao real, ao previsível, ao temporário, ao que os desilude.
"Eu deixaria um tipo por um filme, mas nunca deixaria um filme por um tipo."
"Les femmes, sont-elles magiques?". Não tanto como no cinema, ou talvez sim, pois estas fazem parte do nosso, apenas vivem nele para os homens. Para Truffaut, no cinema que é vida, na vida que é cinema, no cinema que é um filme melhor da vida. "Je crois que le cinéma est une amélioration de la vie, parce qu'il est magnifique". Nenhum outro realizador nos mostrou tanto a verdade dessa frase, de forma tão apaixonante. Se Citizen Kane incitou Ferrand/Truffaut a fazê-lo, La Nuit Américaine vale-nos pelas mesmas razões, pela mesma inspiração, a que ele nos quis passar, e pela qual vivemos muito mais, numa das obras mais mágicas do (seu) cinema.