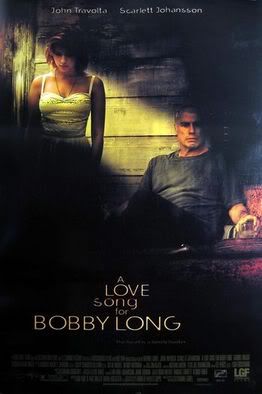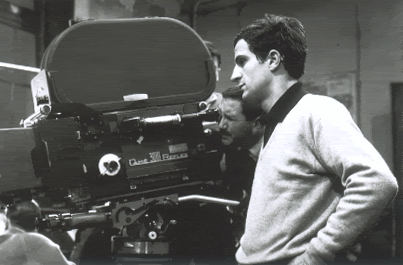François Truffaut talvez tenha sido o único realizador com o privilégio de ter tido a mesma personagem para si, a sua personagem, para filmá-la ao longo dos anos, em diversos estados da sua vida - cinco, mais precisamente: Les Quatre Cents Coups em 1959, Antoine et Colette em 1962, Baisers Volés em 1968, Domicile Conjugal em 1970, e L'Amour en Fuite em 1979. No primeiro destes filmes, Antoine Doinel, no filme da vida, e Jean-Pierre Léaud de nome real, tinha 14 anos, e no último andava já nos seus trinta e poucos.
Por este alter-ego de Truffaut, personagem também já independente à medida que foi crescendo, fomo-nos apaixonando pelo seu cinema desta forma verdadeiramente única. A infância, as paixões, as hesitações, a inocência, a naïveté, as ruas de Paris, nossas e dele, as mulheres, os livros, as piadas, as corridas (sempre de Doinel), o amor, a desilusão, a fraqueza, as obsessões, as pessoas.
Este cinema, o cinema, tal como essas, nunca mudam. Mas como o último título indica, foge-nos o amor, foge-nos aquilo que mais queremos, foge-nos aquilo pelo qual vivemos, por culpa própria, porque vivemos.
Doinel não tem culpa, e nós simpatizamos com ele, porque somos testemunhas do seu cinema, de todo o concretizar da sua ideia. É todo um filme que já não nos deixa, porque também o somos e também queremos ser. Como Doinel, que quer ser amante, marido, pai, filho, irmão, e quer ser amado, por mulheres, livros, músicas, pela vida. Assim ele confessa, ao despedir-se de Christine em Domicile Conjugal, quando esta, no táxi, lhe responde que, de sua parte, apenas quereria ter sido sua mulher.
A dificuldade do compromisso com a vida será indubitavelmente mais complexa que a identificação entre o nosso e o de Doinel. De muitas formas, este é uno, ou inevitavelmente identificável, muito mais do que por uma consequência cinéfila, mas por uma consequência de vida ("os cinéfilos são pessoas doentes", dizia Truffaut). Aqui estas confundem-se, e confrontamo-nos com as nossas sensações. Tal como Doinel em conversa com a "spychologue", ou com um amante, o "principal", de sua mãe, muitos anos mais tarde depois de o ter visto pela primeira vez em Les Quatre Cents Coups, apenas na última obra L'Amour en Fuite.
Por todos estes pontos somos testemunhas de tudo o que é vida - tanto beleza, humor, ou tristeza. De todo o cinema, o de Truffaut será o mais sentimental - o que toca em todas as relações, em todos os degraus, em todos os momentos, sempre de forma majestuosamente subtil. Chega a ser arrebatador, tal como quando saímos das salas e somos lá fora, toda a passagem por sentimentos tão distintos, por posições, frases ou olhares tão verdadeiros.
E à qualidade de todo este cinema junta-se toda uma cinefilia, a das citações das imagens, a da nossa vida, as que se tornam nossa vida. Este é o cerne de todo o cinema de Truffaut, de todo o nosso, naquele que viveu como um dos realizadores mais apaixonantes de sempre. E assim continuará, por todos os rumos que se seguirão. Tal como o fez Doinel, Léaud, Truffaut. No cinema da vida.